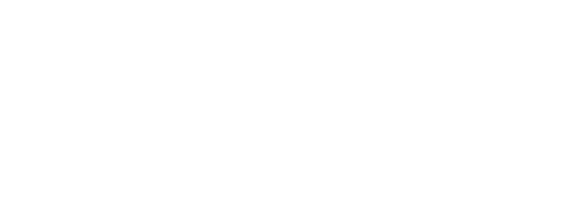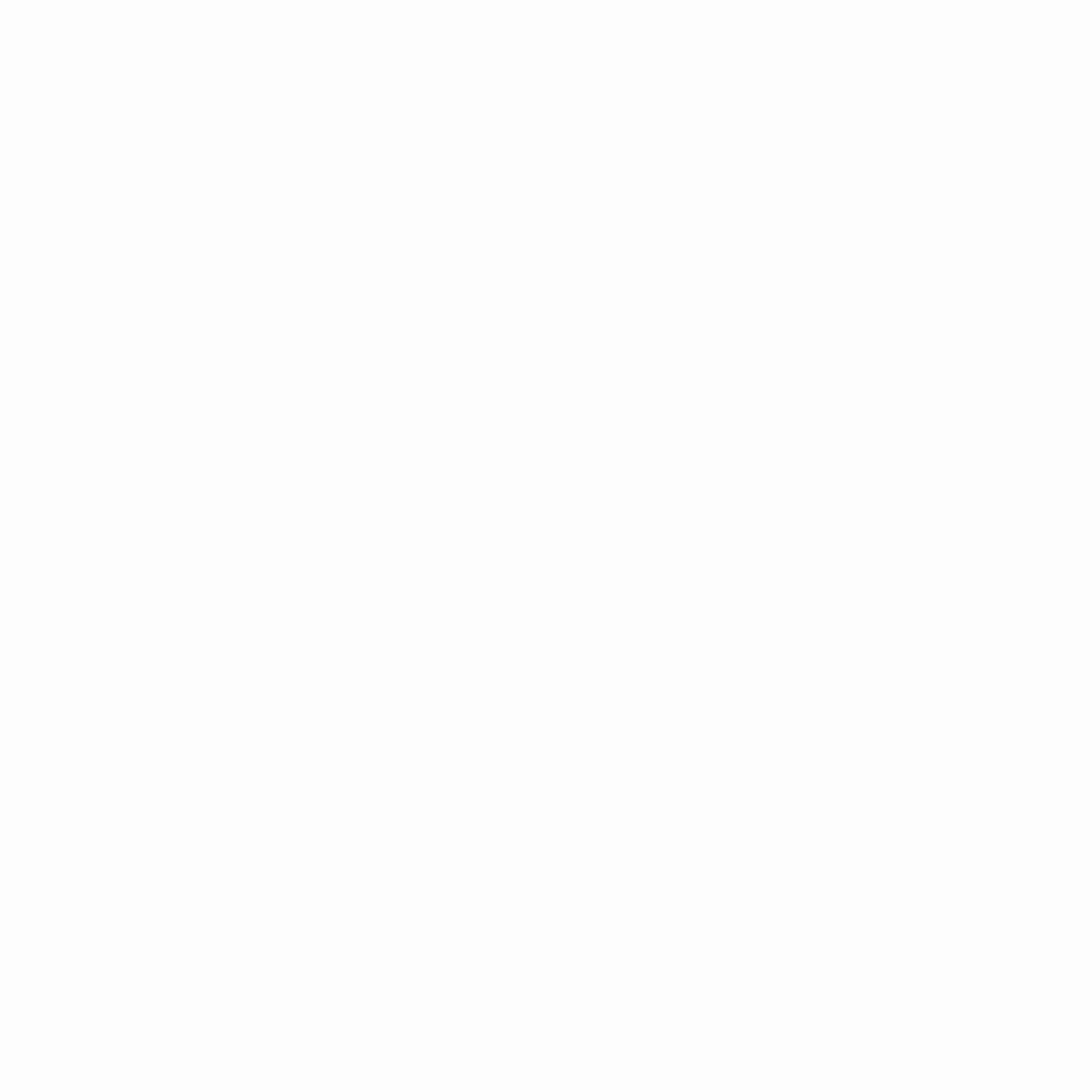(Foto: Nah Jereissati/ADUFC)
O Dia Internacional de Luta das Mulheres, lembrado neste 8 de março, evidencia uma série de pautas que precisam ser enfrentadas coletivamente para a construção de uma sociedade com equidade de gênero. Nas universidades e nos sindicatos, os desafios são concretos para assegurar às mulheres cientistas e pesquisadoras condições mais justas e sem prejuízos à carreira. Diretoras da ADUFC relatam os principais pontos de tensão que persistem em relação a uma maior participação das mulheres na política, na pesquisa acadêmica, na militância sindical e nos cargos de gestão em geral. Para as docentes, já houve avanços significativos até aqui, mas são necessárias ações mais efetivas para garantir a equidade de gênero atravessadas por políticas interseccionais.
A presidenta da ADUFC, Profª. Irenísia Oliveira, explica que a política e o espaço público em geral ainda são vistos como de domínio masculino e defende que se abra espaço para que mais mulheres sejam não apenas militantes, mas também dirigentes sindicais. “A igualdade de gênero não é um objetivo que atingiremos ‘naturalmente’. Para que ela seja realidade, é necessário fazer a crítica das relações existentes e assumir uma atitude transformadora”, avalia, lembrando que, nas últimas décadas, o movimento sindical docente tem aprofundado essa consciência da necessidade de uma postura afirmativa. “Por exemplo, em nossas chapas para a diretoria da ADUFC, tomamos a decisão de que fossem pelo menos paritárias. E a participação das mulheres na diretoria da nossa entidade tem realmente melhorado”, acrescenta.
Secretária-geral da ADUFC, a Profª. Maria Inês Escobar diz que a participação das mulheres no “novo sindicalismo” é marcada pela tomada de consciência dos seus direitos, com a abertura política após a ditadura civil-militar, e pela ampliação do debate sobre as condições da mulher trabalhadora. “O tema ganha lugar nas pautas, mas ainda há um longo caminho a percorrer no combate às práticas discriminatórias em nossas instituições e organizações. A história registra, não de maneira suficiente, inúmeras mulheres protagonizando lutas diversas, relativas às relações produtivas e reprodutivas”, destaca. “Não podemos mais aceitar, especialmente na luta sindical, que sob a retórica de não se fragmentar a classe trabalhadora, omitam-se as questões de gênero e raça”, opina.
A diretora de Atividades Científicas e Culturais da ADUFC, Profª. Ana Amélia de Melo, corrobora a opinião e diz acreditar que o “maior desafio para se alcançar a equidade de gênero é o da interseccionalidade”. “Não é só criar espaços e fomentar a participação das mulheres, mas especialmente aprofundar essa política afirmativa em relação a mulheres negras, indígenas, LGBTs (…) É preciso que as instituições criem, estruturalmente, mecanismos que acompanhem onde estão concentradas as desigualdades”, aponta. “Na universidade, determinadas carreiras têm maior concentração de mulheres, mas são majoritariamente brancas. É preciso verificar e trabalhar essa desigualdade, fomentando a equidade de gênero e raça”, ressalta.
Economia do cuidado é predominantemente feminina e amplia desigualdades
Diante das complexidades do machismo estrutural e do patriarcado, o debate sobre a equidade de gênero é atravessado por camadas sociais invisíveis, como mostram estudos sobre a “economia do cuidado”. Ainda recai sobre as mulheres, exclusiva ou predominantemente, a tarefa de cuidar: seja da casa, das pessoas ou mesmo dos animais domésticos. Não raro, esse trabalho é mal remunerado ou não pago, gerando desequilíbrio entre as funções, sobrecarga física e mental e, inevitavelmente, limitando oportunidades profissionais. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 76% do trabalho de cuidado não remunerado é realizado por mulheres. Essas jornadas valem quase 11 trilhões de dólares por ano e, na prática, sustentam o capitalismo às custas da sobrecarga de mulheres.
Irenísia Oliveira salienta a barreira ideológica internalizada, que ainda existe e dificulta a participação da mulher nas mais diferentes esferas públicas, mas também os impasses de caráter mais prático. “O trabalho do cuidado nas famílias – de crianças, doentes e idosos – ainda recai de maneira muito forte sobre a mulher. Esse é um trabalho muitas vezes invisibilizado, não remunerado e, ao mesmo tempo, desgastante”, reflete. E complementa: “mulheres negras e pobres são as mais envolvidas nessas ocupações, inclusive profissionalmente. Enquanto os homens, sobretudo os brancos, ganham o mundo, o trabalho do cuidado – tão essencial e importante – é relegado, desvalorizado e imposto às mulheres como forma também de alijá-las de atividades socialmente mais prestigiosas”.
Ana Amélia de Melo também lembra das barreiras relacionadas à maternidade, uma vez que a própria universidade tantas vezes reproduz critérios ultra-produtivistas que excluem as professoras e pesquisadoras mães ou mesmo atrasam a sua carreira acadêmica. “A mulher acaba sofrendo com uma sobrecarga de trabalho. Essas barreiras aumentam com a desigualdade social, que não pode estar separada das agendas de equidade de gênero. Mulheres pobres têm mais dificuldades de acesso e permanência no ensino superior”, diz.
Caso recente e amplamente noticiado foi o da Profª. Maria Caramez Carlotto, da Universidade Federal do ABC (SP), que se inscreveu para uma bolsa de produtividade no CNPQ e, além de ter a bolsa negada, o responsável por um dos pareceres alegou que a carreira científica da candidata foi prejudicada pela maternidade. O caso foi tornado público pela própria professora nas redes sociais, em dezembro do ano passado. Segundo ela, o parecer reconhece a carreira acadêmica, mas questiona a ausência de um pós-doutorado no exterior, concluindo que “provavelmente suas gestações atrapalharam essas iniciativas” e que essa espécie de falha poderia ser compensada no futuro.
Para Maria Inês Escobar, há uma lacuna em relação a políticas de incentivo e manutenção das mulheres na pesquisa. “A organização do trabalho na pesquisa ou em outros setores, somada ao simbólico papel conservador da mulher na família brasileira, tem atrapalhado o avanço da pesquisa no Brasil e no mundo. Um país não pode avançar sem a pesquisa, que tampouco avançará sem a participação da inteligência feminina”, reforça. Na análise da docente, a mudança exige uma experiência coletiva de tomada de poder, desmontando estereótipos que aprisionam as mulheres em posições de “docilidade” e “subalternidade”. “Não há dúvida que condições de trabalho diferenciadas para mães, creches, representatividade, luta contra o assédio e violência serão pautas nas organizações e instituições se as mulheres estiverem na linha de frente”, destaca.
As três diretoras da ADUFC concordam que os imaginários construídos socialmente sobre as mulheres impactam nas possibilidades de carreira e ocupação de cargos, a exemplo da tímida participação feminina em cursos de ciências exatas e tecnologia. “Infelizmente ainda existe essa ideia das profissões que são masculinas e das que são femininas. Basta ver o componente de gênero em alguns cursos da universidade. As mulheres são tradicionalmente afastadas dos cursos de base matemática e/ou tecnológica”, cita a Profª. Irenísia Oliveira.
Levantamento do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemaa), do Instituto de Estudos Sociais e Políticos (Iesp/UERJ), mostra que há uma diminuição do contingente de mulheres à medida que as carreiras progridem. Segundo o estudo, na maioria dos campos do conhecimento, é possível identificar a queda na participação delas com o avanço em estágios profissionais. Em apenas 34% das áreas, as mulheres alcançam equidade ou são maioria entre docentes da pós-graduação, apesar de ter havido aumento geral, ainda que discreto, na participação das mulheres com mestrado (2%), doutorado (3%) e na docência (5%) em diversas áreas do conhecimento no país, de 2004 a 2020.
“Não posso terminar, mesmo sob apelos, sem dizer que a igualdade como horizonte deve ir além do aspecto formal. É fundamental reconhecer as diferenças sociais, históricas e culturais entre os gêneros, combater a ideia de subalternidade das mulheres e a homofobia que se agiganta nestes tempos absurdos”, pontua Maria Inês Escolar, referindo-se à eleição, na última quarta-feira (6/8), do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) – um jovem parlamentar homofóbico, machista e de extrema direita – para presidir a Comissão de Educação da Câmara Federal. A realidade revela, portanto, que não há outro caminho possível a não ser a luta permanente: nas urnas, nas redes sociais e nas ruas.