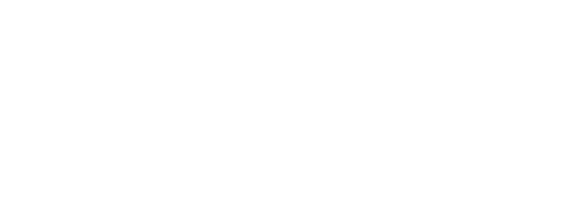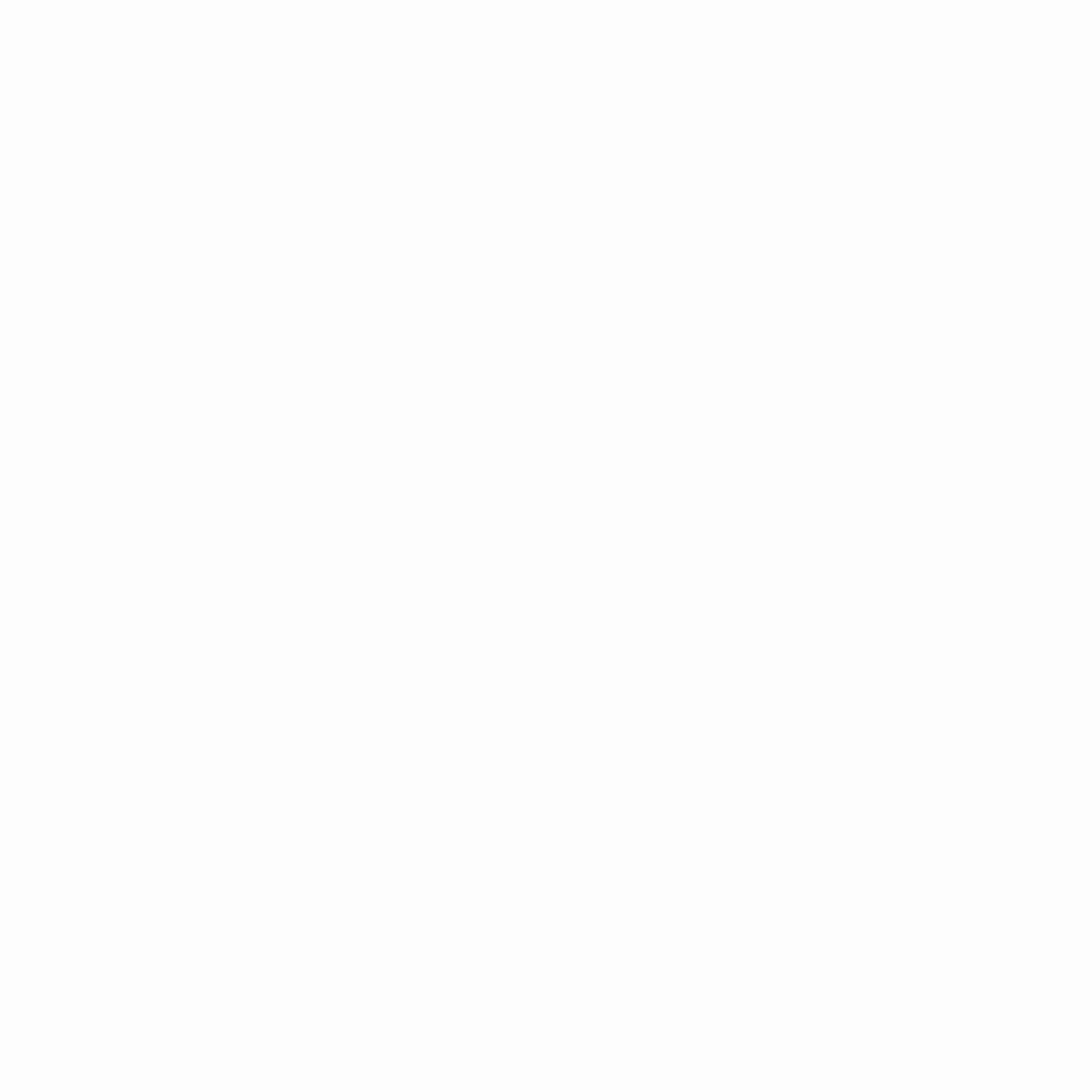Maria Zélia da Silva (Assistente Social e militante do Sindicato da Previdência Social, Trabalho e Saúde – Natal/ RN)
Nasci em uma família pobre e numerosa. Embora papai fosse funcionário público, o seu salário não era suficiente para cobrir todas as despesas da família. E, na família, apenas papai trabalhava.
A despeito de nossas dificuldades financeiras, éramos tidos pela vizinhança como “os ricos” da rua onde morávamos. Talvez isso se devesse porque tínhamos casa própria, embora simples e papai tinha emprego fixo.
Ressalte-se que nunca passamos fome e, quando criança, lembro-me que gostava de brincar de professora das crianças pequenas da vizinhança para, antes de tudo, alimentá-las à hora do lanche da tarde.
A maior e primeira impressão que tive da fome foi ao presenciar um almoço em casa de uma das crianças da vizinhança. Sentadas no chão, elas comiam feijão com muito caldo e nada mais. E eu, criança, pensava comigo mesma: é diferente da minha casa, não tinha arroz, nem “mistura”, ou seja, carne de sol, de charque, ou outra carne qualquer, peixe ou galinha caipira. Também não havia ali nem folhas verdes, nem legumes. Embora não tivesse ainda conhecido as teorias das desigualdades sociais, aquele quadro ficou para sempre na minha memória afetiva.
Em meio às desigualdades sociais, estava a negação pela minha família da nossa negritude: “ninguém aqui é preto, somos morenos”; “aqui ninguém tem cabelo pixaim”, mas o meu avô paterno tinha… Assim, eu me convenci, ao longo da infância e até a idade adulta, de que eu não era negra. Até que um dia, em um episódio marcante na minha vida, uma colega de trabalho enfatizou a minha cor negra, ao que eu retruquei de pronto:
“Eu, negra?”
A convivência com mulheres negras que afirmavam, com veemência, sua identidade, me fez descobrir-me negra. Desse modo, um tanto tardiamente, fui assumindo a minha negritude, partilhando, mesmo, experiências com o movimento negro. E, hoje, eu afirmo categoricamente:
“Eu, negra, sim, com muito orgulho!”
Hoje, com esse velho/novo tempo, essas memórias vêm à minha mente e me fazem pensar e repensar nas formas de violência que marcam a nossa história. E, mais que isso, vejo que a epidemia do Coronavirus escancara as apartações e exclusões da vida brasileira, trazendo à tona, cruelmente, a desigualdade social, o racismo, a dualidade contraditória entre ricos e pobres, mostrando, com clareza, a vulnerabilidade dos que vivem às margens. E, de modo especial, refiro-me aos povos Indígenas, a viverem um novo genocídio, sem a devida proteção do Estado e com a indiferença da maioria da sociedade.
Cotidianamente, na televisão, jornalistas entrevistam os famosos, os que têm visibilidade social, perguntando o que eles têm feito nestes tempos de pandemia. E as respostas são recorrentes, mostrando o dia a dia protegido: “cozinhamos, limpamos a casa, ouvimos músicas, assistimos milhares de lives, de todo gênero, elaboramos peças teatrais e escrevemos artigos e livros”. Eu, se me fosse perguntado, responderia que o que mais faço, no isolamento comigo mesma, é pensar, refletir sobre a “velha/nova” realidade que nos tomou de repente, impondo questionamentos: e agora, o que posso fazer por mim, pelo outro que eu vejo tão escancaradamente despojado de sua Humanidade?
E penso o quanto estamos a nos desumanizar, mergulhados no corre-corre frenético dos tempos atuais. Vem, à minha cabeça, a desumanização do individualismo, do consumismo, da indiferença, do egocentrismo, do olhar inteiramente voltado para si mesmo, ignorando as diferenças.
Esses longos tempos de isolamento social parecem nos convidar ao reencontro com a Humanidade de cada um de nós, perdida em um estilo de vida que, muitas vezes, nos fecha para o outro, nos faz surdos às suas vozes e aos seus gritos, nos paralisa para a acolhida.
Uma preocupação geral, expressa de muitas formas, é quanto ao mundo pós-pandemia, e eu me pergunto: “o que seria fundamental para um mundo melhor?” Sinto que é preciso restabelecer pontes que nos liguem um ao outro, encarnar, na prática, um profundo respeito às diferenças, convictos que ai está a nossa riqueza.
Mais do que nunca, é fundamental romper com todas as históricas violências do Colonialismo, que ainda se expressam contra determinados grupos: povos indígenas, comunidades quilombolas, populações que habitam as periferias, diversidade de segmentos LGBTQA+I. Enfim, é urgente e necessário nos humanizarmos, expressando isso, em posturas, em atitudes, em práticas de partilha e solidariedade.