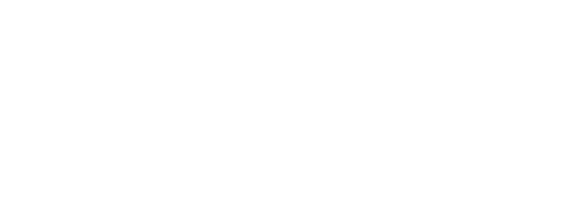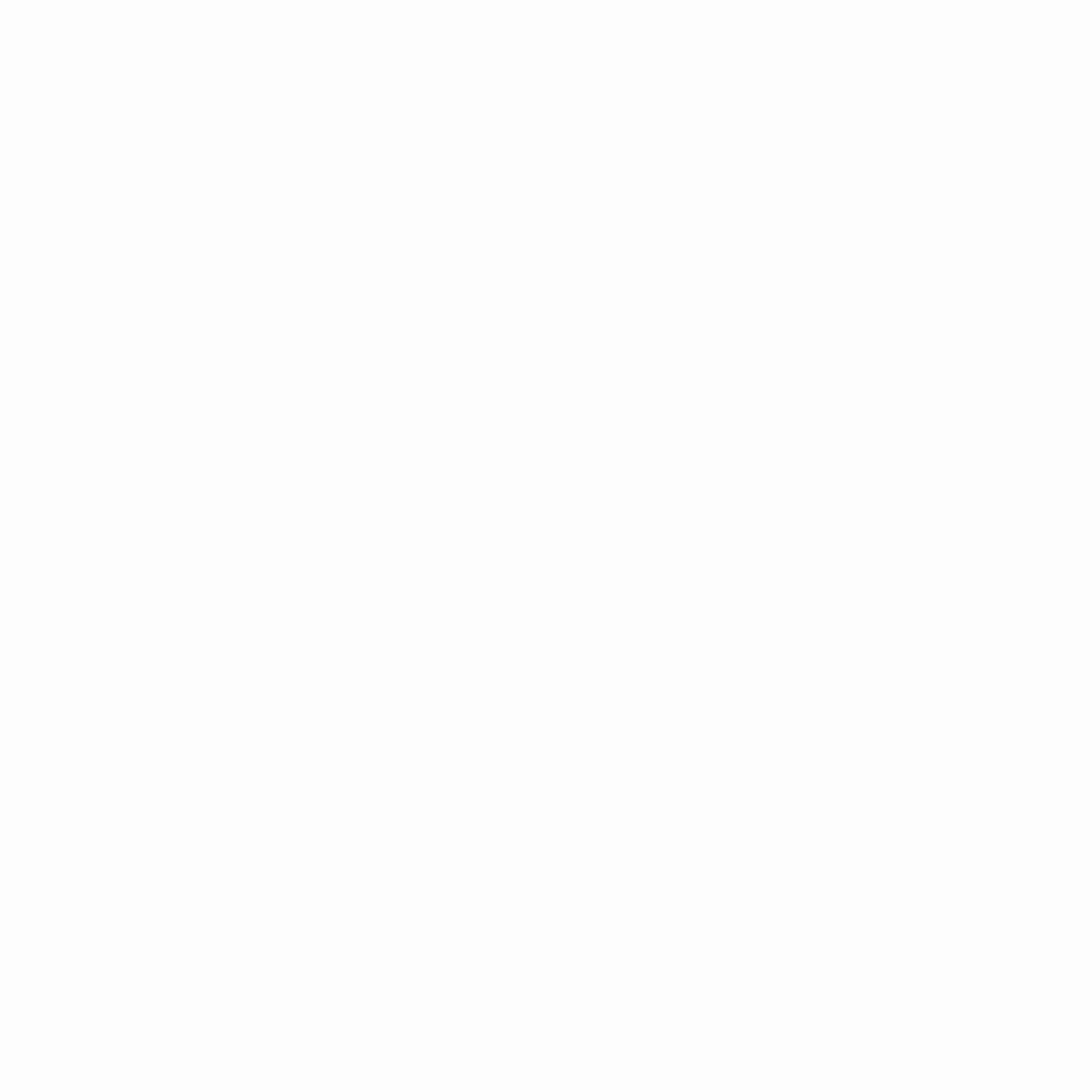George Paulino (Professor de Antropologia – Universidade Federal do Ceará)
Há poucos dias atrás, no contexto da crescente pressão empresarial, institucional e midiática pela realização de aulas remotas via internet, deparei com uma imagem que circulava pelas redes sociais. Era uma ironia ao autoritarismo que tenta impor o ensino a distância, nesse longo período de isolamento social. Consigo descrever a figura assim: do lado de fora de uma casa de razoável conforto material, um menininho de sandálias gastas, vestindo trajes um tanto quanto precários, olha através da janela de vidro, o computador do outro menininho que se encontra dentro da casa, a assistir aula remota em seu notebook. Do lado de fora, a criança tenta, angustiada, fazer anotações. Essa imagem me sacudiu. Fiquei a pensar em como a experiência com o tempo rebate nas pessoas em infinitas possibilidades. Em inúmeros limites, também.
Ocorrem-me, nesses dias – já passam dos setenta – algumas perguntas, sobre o tempo. Como estamos vivendo esse tempo? Sei que sentimos medo, tédio, esperança, fé, empatia, solidariedade, a dor das perdas, o cansaço do olhar enquadrado pela rotina, no mesmo lugar, todos os dias. Sentimos vergonha e raiva ao vermos um Brasil desgovernado, sofrendo os mais diversos ataques à democracia, à saúde coletiva, à ciência, à educação, à comunicação, com o Presidente da República a desdenhar das mais de 20.000 vidas ceifadas nessa pandemia da Covid 19 no Brasil – mais de 29.000, no dia 31 de maio de 2020.
Deixou-nos indignados e entristecidos, ver um ministro do meio ambiente pensar nesse tempo como um tempo de oportunidade para “passar a boiada” nas leis ambientais e afrouxar, ainda mais, a degradação da natureza, já tão alarmante nesse desgoverno. Estamos estupefatos ao vermos o descaso com as pessoas que vivem da cultura e das artes neste país. Não fosse o bastante, nesse tempo de dor, vimos uma secretária nacional da cultura, em entrevista, debochar da morte e da tortura, protagonizadas pelo Estado durante a Ditadura Militar. Tempo também das “fake news” que são propagadas por apoiadores do desgoverno, espalhando ódio, preconceito, xenofobia, racismo, perseguição à ciência e dados falsos, que incentivam o descumprimento das medidas sanitárias. Tempo em que o chamado “gabinete do ódio” quis fazer crer que há diagnósticos falsos de Covid19 e que enterros teriam sido realizados em caixões sem corpos.
Nesse tempo, o terrível vírus biológico nos assusta. Mas, talvez mais brutal que ele, seja o vírus moral do fascismo. Este não é invisível e não vive esse tempo como tempo de isolamento social. Mostra suas garras nas ruas, ataca repórteres, jornalistas, profissionais da saúde; faz carreata, a clamar que trabalhadores e trabalhadoras entreguem-se à morte, desde que façam funcionar o motor da produção, que é um moinho de gastar pessoas para enriquecer aqueles que fazem a carreata da morte, que entendem a economia como descolada da saúde. É o vírus do fascismo, que faz impunemente, caminhada para defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal, com manifestantes travestidos de membros da Ku Klux Klan.
Nesse quadro de horrores, sigo a perguntar. Como significamos e construímos os sentidos do tempo em nossas vidas? Nosso tempo é mesmo medido pelo relógio? Pelo tempo em si, tal como flui nos ciclos da natureza? Ou, pela lógica produtivista, que escraviza o próprio tempo?
Só posso responder de dentro da minha experiência. Não será fácil. De partida, digo que tenho o privilégio de isolar-me, de trabalhar em casa e na casa, embora isso também não esteja sendo fácil. Estou como único humano numa casa muito grande, na companhia dos bichinhos que criamos. A família foi viver o isolamento em local que entendemos ser mais seguro, na zona rural do interior cearense. Há dias em que perco a noção do tempo, sem saber em qual dia do mês e da semana me encontro. Tenho sentido dificuldade de concentração. Mas busco, no passar das horas, que para mim não tem sido lento, reinventar minha relação com a solidão. Observo o tempo da natureza, planto, colho, molho, adubo, lavo, limpo, fotografo flores, bichos, o por do sol, a lua, o horizonte que se espraia na minha vista a cada entardecer. E compartilho as imagens nas redes sociais, com poesia, música, sentimentos. Abro gavetas, encontro memórias, vejo minha gente nas fotografias, vejo o passar do tempo em minhas imagens, desde quando fui bebê até agora, quando estou a poucos dias dos meus cinquenta anos. Meio século de existência. Talvez a falta de concentração seja porque tenho pensado muito, sentido muito. Vida sensorial. Rezo, acendo velas, cozinho, faço treino físico em casa, sigo o pesado, mas necessário protocolo sanitário, tudo sozinho. Nas rezas, não estou só; tenho comigo a espiritualidade, o divino, o sagrado. Pouquíssimas vezes saí de casa em busca do essencial: alimentos, remédios. E, vinho. Ah, o vinho também tem me salvado nos fins de semana, nas altas horas. E as conversas nas redes sociais.
E me canso. Nos últimos dias, vi que não posso dar conta de tudo isso. De trabalhar remotamente em atividades da Universidade e dar conta de tanta tarefa doméstica. Assim, o que posso deixar do meu trabalho acadêmico para realizar a partir da meia noite, estou deixando. Flui mais, longe do calor do dia, com melhor sinal de internet, silêncio mais profundo. E a concentração também melhora. Mas minha experiência com o tempo, nessas horas a fio de mais de setenta dias, não romantiza o tal do “home office”. Aliás, devo dizer que minha experiência sente cansaço também dessa colonização linguística nesses dias de quarentena: sentir o trabalho invadir sua casa virou “home office”, assistir e/ou participar de vídeos de arte e debate virou “live”, confinamento obrigatório no espaço da casa virou “lockdown”… E assim vamos esticando um estranho vocabulário de quarentena.
Tenho vivido esses tempos com a ambígua sensação de provar do tempo distraidamente, para fotografar um por do sol e, em outras horas, provar do tempo com o cansaço de quem limpou a casa, fez comida, lavou louça e comeu sem mastigar, no calor de trinta e dois graus, correndo, sem tempo para tomar um banho, porque vai começar mais uma reunião virtual de trabalho.
E então a gente se dá conta de que o sentimento de impotência que nos acomete nesse tempo não se conforma – como pareceria justo que assim fosse – na dor e no luto pela perda de pessoas queridas. E, cada vez que acessar as redes sociais, deparar com quatro, cinco pessoas que lamentam a perda de entes queridos. A dor de saber que, no Ceará, o número de assassinatos cresceu expressivamente durante a pandemia. E indignar-se com o fato de que para o mercado que pede produção e rentabilidade, essas vidas e essas dores não importam. Não, lamentavelmente esse sentimento não se encerra aí. Minha vivência no meio de tudo isso traz o espanto e a dor de nos vermos também escravizados pela lógica produtivista da Universidade, com cobranças institucionais e pressão para o retorno a uma normalidade que não existe, por enquanto. Para nosso espanto, vimos um reitor de Universidade Pública expor em seu perfil nas redes sociais, de forma ilegal, o histórico acadêmico de um estudante. Vivemos o peso de, nas reuniões virtuais, tentarmos vencer aqueles que querem as aulas remotas, mesmo sabendo que muitos estudantes estarão excluídos. O peso de estarmos a buscar estratégias, como quem tira leite das pedras, para que estudantes não percam suas bolsas e cursos de pós-graduação sobrevivam. E aí nos submetemos também ao sentido do tempo burocrático, implacável, ainda que não nos vejamos com condição emocional para isso.
Para não terminar aqui, já que a vivência da pessoa com o tempo é relativa à sua experiência, preciso dizer que não é da natureza humana o tempo produtivista. A significação do tempo não é natural; é social. É socialmente construída, tal como nos ensinam as ciências sociais, a literatura, filósofos, poetas, artistas. Aponta-nos uma luz de esperança saber de sociedades tribais em que a relação com o tempo é outra, pautada pelos ciclos da natureza e no princípio de que se vive do trabalho e não para o trabalho. Querer a vida de trabalhadores e trabalhadoras para o trabalho é o desejo dos que fazem a carreata da morte. E isso também não é da natureza humana. É falta de empatia socialmente construída, no seio de uma sociedade que ainda não enterrou seu ethos escravocrata.
Retomo aqui a imagem do menininho pobre, citada no início. O tempo de uma criança não deve ser o tempo de espiar na janela de outra criança com melhores condições econômicas de acesso à educação formal. O tempo de chorar a morte não pode ser o tempo das festas clandestinas onde a indiferença do “tô nem aí” atenta contra a saúde pública. O tempo do Enem não pode e nem deve ser o tempo da virtualidade, quando se tem a certeza de que há cidadãos e cidadãs que ficam de fora da inscrição para o exame. Compreendamos que “há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou” (do livro Eclesiastes). É pena que tantos não compreendam o tempo de desacelerar que a natureza nos impõe hoje. Por agora, que posso fazer, senão uma prece? Posso também pensar no poeta Aldir Blanc – que a travessia pandêmica nos tirou – a cantar: “batidas na porta da frente, é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento”.