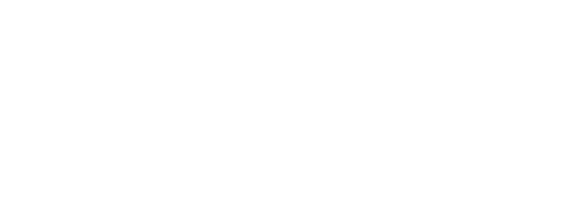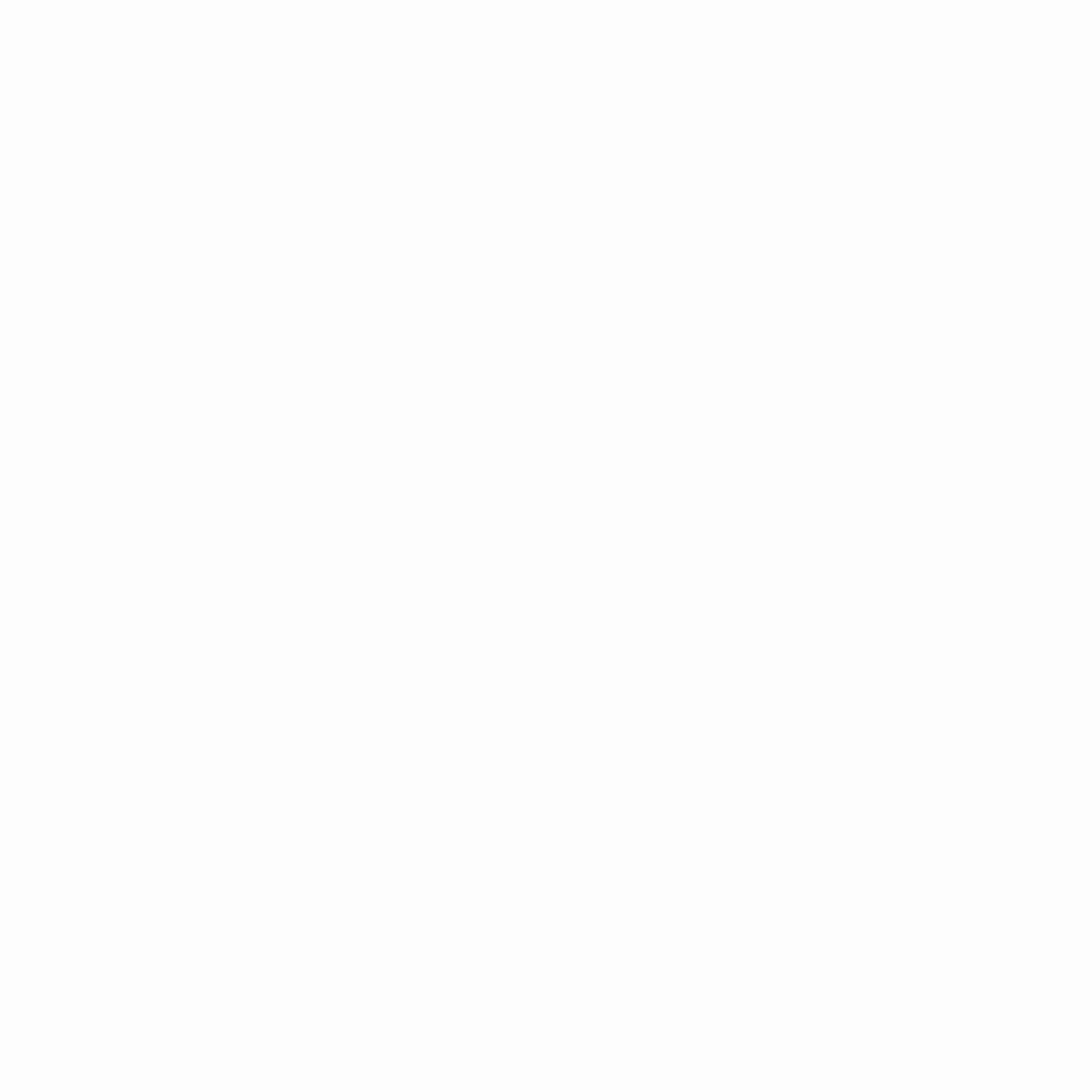Esther M. de M. Arantes (Professora da UERJ)
Ruth Batista (Psicóloga Clínica)
Houve um tempo onde os humanos podiam se encontrar, andar lado a lado e até se abraçar. Ao saírem às ruas, não usavam máscaras e não tinham que se desinfetar quando tocavam algo fora do seu corpo.
Mas veio uma pandemia, batizada de COVID-19, e tudo se alterou. Não podendo mais se aglomerar em shows, comícios, passeatas e festas, até as escolas, igrejas e feiras ao ar livre foram proibidas, passando a existir apenas na lembrança dos sobreviventes.
E foram tantas e tristes as mortes que mesmo os profissionais de saúde perdiam suas vidas tentando salvar outras. Não havendo como guardar os corpos, muitos foram congelados e depois enterrados em covas coletivas, sem a presença de familiares.
Não é que tal pandemia não tivesse sido anunciada. Cientistas, ecologistas e povos originários sempre alertavam sobre as mudanças climáticas em curso, a contaminação dos alimentos, a poluição do solo, das águas e do ar que respiravam.
Diziam que grandes debates foram travados entre os que insistiam em acelerar o processo de devastação da Terra para manter e ampliar o modo de vida existente, e os que acreditavam ser necessário deter aquele processo que levaria irremediavelmente ao fim daquele mundo.
Alguns falavam que a pandemia, por si só, não teria sido tão devastadora, não fosse outra ocorrência que já estava em andamento naquele mundo. Ao se juntarem, pandemia e pandemônio agravaram os males existentes, tornando tudo mais explícito, obsceno e injusto.
Disseram que quando tudo passou o mundo já era outro. Que até os animais domesticados como cães e gatos foram afetados pelo fim do isolamento imposto aos humanos, pois haviam se acostumados com a presença constante de seus donos.
Já os animais não domésticos gostaram do isolamento dos humanos por outros motivos. Voltaram a circular em todos os lugares da Terra, inclusive na parte central das grandes cidades. Muitos deles foram vistos passeando nas ruas e avenidas agora desertas, tomando posse de tudo: veados, cervos, ovelhas, cabras, javalis, macacos, elefantes, patos, coiotes e raposas, dentre inúmeros outros. Até puma, jacaré, canguru e leão-da-montanha foram vistos.
Disseram também que até o ar ficou mais puro e leve, e as águas dos rios e oceanos menos poluídas. Mas os estudiosos fizeram novo alerta: findada a pandemia era necessário que os humanos não mais retornassem ao modo de vida anterior. Era necessário que se pautassem por um “novo normal”.
Disseram, por fim, que apesar dos males e das mortes, muitas categorias de trabalhadores, entre os quais artistas, músicos, profissionais de saúde, policiais, entregadores, vendedores, pessoal da limpeza, demonstraram sua sabedoria, grandeza e generosidade – valores que naquela época estavam em descrédito, tal a prevalência do pandemônio, já referido.
Ocorreu que muitos dos que vieram depois não acreditaram, mas outros ficaram pensativos, se perguntando sobre esse estranho mundo que disseram que uma vez existiu. E foi de tanto procurar que acabaram encontrando pequenas anotações em velhas folhas de papel, onde se podia ler:
O que se passa com a gente: Após 12 dias de isolamento precisei ir ao banco, que fica a alguns metros de minha casa. Fui de carro para poder retornar o mais rápido possível. Levei álcool em gel, uma máscara (caso necessário), cartão do banco e os óculos de grau – o mínimo de coisas. Ao abrir o portão da garagem, tive uma sensação estranha de estar em exposição ao desconhecido. Observei que algumas pessoas transitavam alheias aos meus receios e às recomendações de isolamento que ecoavam aos quatro ventos. Não sei quais delas precisavam estar ali, não quis me ocupar em fazer julgamentos. Todo esse cuidado eu tive, em especial, por morar com minha mãe de 88 anos, portadora de Alzheimer que não tem ideia exata do que se passa no mundo. Temo por ela, por mim e por todos. É estranha essa sensação de controle e vigilância, quase palpável, sobre as coisas que antes fazíamos despreocupados, sem reserva alguma.
Uma cena no banco, no entanto, escapou ao previsto: eu estava no caixa concentrada para ser rápida e, de repente, um morador de rua se aproximou e pediu dinheiro para comer. Nesse instante, confesso, me assustei com a presença dele. Em geral isso não acontece. Minha reação foi pedir que ele se afastasse, argumentando: “moço, tenho uma mãe idosa e doente em casa, não posso ficar tão perto do senhor. Por favor”. Não consegui sequer abrir a bolsa para dar algum dinheiro para ele, que se afastou pedindo desculpas. Fui embora, lembrando-me da cena e daquele homem, com um aperto no peito. Isso foi ontem e hoje eu ainda penso sobre a realidade daquele homem que desconhece esses meus limites. Embora nossas necessidades se justifiquem, há mais distâncias entre elas que o isolamento é capaz de nomear. Não sinto prazer ou orgulho nessa narrativa, tampouco da minha reação súbita de afastamento, algo que o homem deve reconhecer como natural, mas que não deveria ser.
Narro para, quem sabe, sirva de alerta, pois todos nós estamos sujeitos às capturas que o medo da morte e do outro nos impõe. Nos dias atuais, a ameaça de contágio nos assusta talvez bem mais que as violências diárias que nos cercam; porém, o medo não pode nos tirar a capacidade de reflexão sobre o que se passa conosco no encontro com o outro, independente da circunstância – talvez isso possibilite transformar nossas ações e manter nossa humanidade.
A casa: A casa pode ser um lugar de sossego, retorno, passagem, descanso, afeto, tédio, ausência, violências, queixas, intrigas e solidão. Para muitos, ficar em casa, quando por escolha, pode ser uma dádiva. Quando por necessidade, uma tortura. Ter uma casa para se isolar, para se ocupar, é um privilégio, considerando que existem casas-corpos que perambulam expostos a céu aberto pelas ruas, delas não podendo se isolar – ao contrário, elas expõem um universo de desigualdades de isolamentos. Uma casa, repleta de significados, guarda em si um apelo ao coletivo. Sonha-se por uma casa, gasta-se uma vida de trabalho por ela, mas percebe-se, na emergência, o quanto é difícil usufruir de uma casa.
Paradoxo de Pan: O ano é 2020 e a Pan-demia que vivemos hoje tem um quê de multiplicação e pânico. Isolamento como proteção é a ordem dos tempos atuais. Nas ruas deveriam estar somente os que “não podem parar”, mas nelas também estão os que “não têm como parar”, os que “não conseguem parar” e “os que não querem parar” e se isolar. O vírus escancara o óbvio: não há casa, nem cuidados para todos nesse mundão imenso. Dentro das casas possíveis, estamos nós, os demais – alguns assustados, entediados, outros que sequer entendem a gravidade do momento.
Como proteger os “vulneráveis”? Aqueles que a rua é a própria casa, aqueles que vivem nos aglomerados das favelas, corpo a corpo, espremidos nas vielas, sem condições sanitárias básicas? E os indígenas? Os institucionalizados em asilos, prisões, abrigos que vivem o isolamento social da forma mais dura e perversa na própria pele, no cotidiano com risco de morte e de contaminação constantes? Escute! a terra agoniza antes mesmo de nós.
Dentro das paredes das casas deveria existir mais que indivíduos – coletividades. Esse tempo nos convoca a revisitar nossas casas para nos reconhecermos nelas de outras maneiras. Isolar para proteger, isolar para evitar contágio. O ser humano é social. Ser social é ser de contágio. Porém, diante de PAN, esse paradoxo se sustenta: se isolar é ser social, se isolar é ser coletivo.
Olhando para trás: No final do ano de 2019 ouviu-se de longe que um vírus renascia mais forte e rondaria a terra, impondo, como regra de sobrevivência, o isolamento e o distanciamento físico entre as pessoas. Diversos povos, distraídos pela engrenagem que move o mundo – o capital – não deram a devida importância a sua chegada, ao contrário, abriram seus espaços e a COVID-19 rompeu, sem dó, suas fronteiras. Hoje ela transita mundo afora, fazendo muitas vítimas.
Ao olhar pelas frestas atrás de nossas costas, vemos que a vida parecia ser mais simples. Houve um tempo onde deixar de abraçar, de beijar, de estar junto de alguém era escolha pessoal e não necessidade de proteção coletiva e vital.