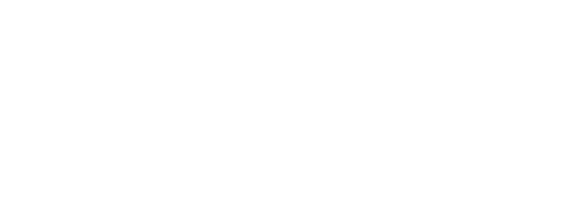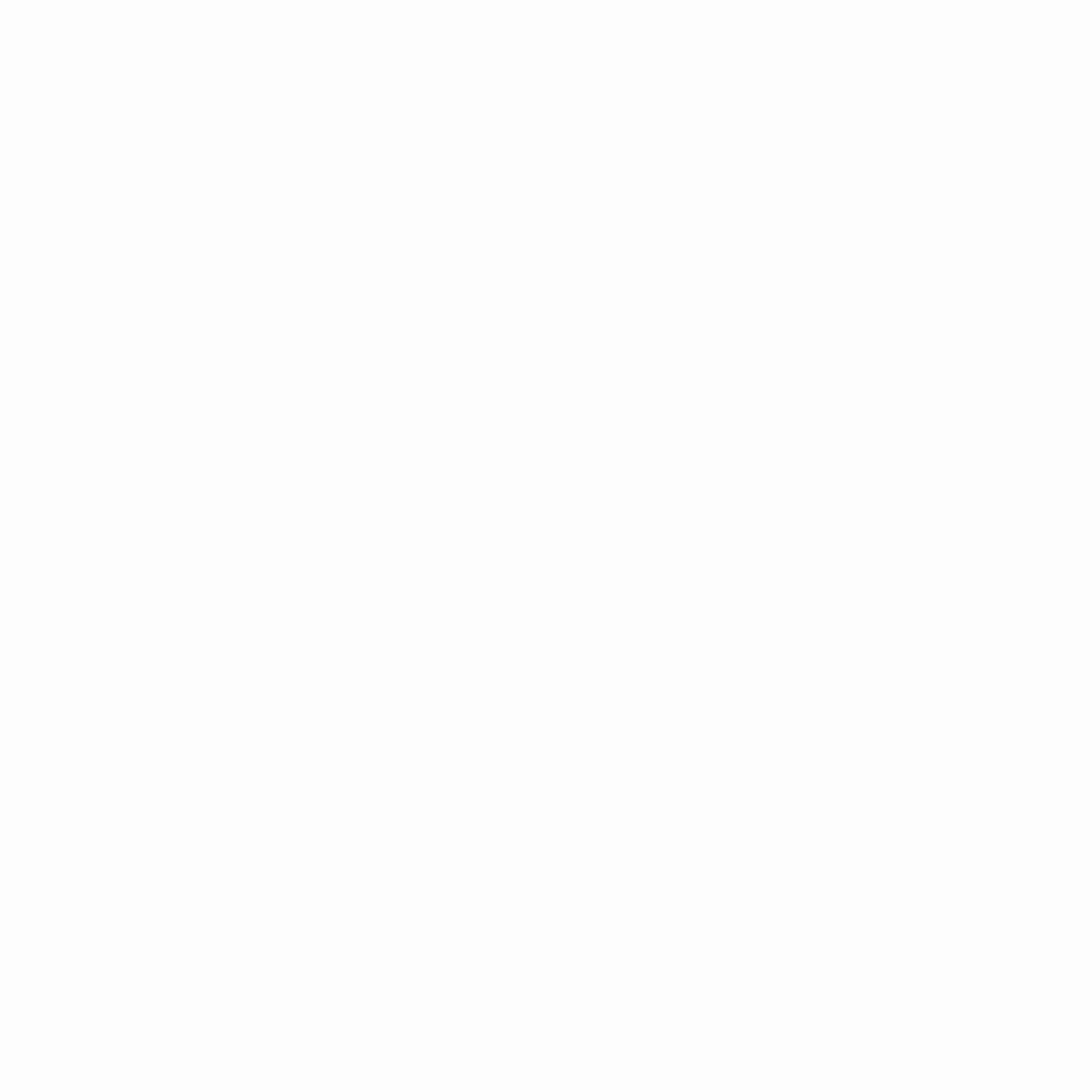Antonio Caubi R. Tupinambá (Professor Titular, Departamento de Psicologia UFC)
Quero dizer, senhor governador Wilson Witzel, que a sua polícia não matou só um jovem de 14 anos com um sonho e projetos, a sua política matou uma família completa, matou um pai, uma mãe e o João Pedro. Foi isso que a sua polícia fez com a minha vida. (*)
Ruby Bridges nasceu em 1954, ano em que o Tribunal Constitucional estadudinense determinou oficialmente o fim da discriminação escolar baseada na raça. A partir daí, negros e brancos deveriam ter acesso ao estudo nas mesmas escolas. A menina Ruby parece ter nascido nesse ano para se incumbir da hercúlea tarefa que se avizinhava: mostrar aos seus compatriotas que era possível negros e brancos viverem juntos, em pé de igualdade. No entanto, protegida por policiais, sua histórica escalada às escadarias da escola só para brancos, William Frantz Elementary School, em 1960, para frequentá-la como primeira menina negra, não resultou, como se esperava, em passos firmes em direção ao fim do famigerado racismo, que ainda hoje grassa na sociedade estadudinense.
Louisiana, anos 1960, experimentava o início do processo de “dessegregação”, juntamente com vários outros eventos e movimentos de luta por direitos civis dos negros estadunidenses. A recusa de Rosa Parks, em 1955, de ceder seu lugar em um coletivo para uma mulher branca, resultou em sua prisão, mas seu gesto fora marcante para a sociedade estadudinense conservadora e segregacionista. Não esqueçamos os discursos inflamados de um dos mais influentes líderes para o combate ao racismo e pela garantia de direitos civis, Martin Luther King. Tampouco podemos esquecer a saga de Malcom X com seus discursos inflamados e radicais, que despertavam na audiência a autoestima do afroamericano, pondo abaixo o conceito de supremacia branca, dominante em várias regiões naqueles anos de chumbo do racismo e do poderio branco. Malcom X foi responsável pelo posterior surgimento de novos grupos e lideranças que lutavam, sem concessões, para que a causa dos direitos civis dos negros continuasse na pauta do dia, mantendo a mesma ideia em despertar autoestima e continuar sua recusa visceral do conceito e práticas funestas da supremacia branca, que dominava várias regiões entre os anos 1950 e 1960, inclusive com a volta de manifestações da Ku Klux Klan. Após a promulgação da lei contra a segregação nas escolas públicas, que fez Ruby subir as escadarias de uma delas, surgiram novas ações violentas da organização criminosa pró-supremacia branca.
O racismo nunca erradicado, e desde então recrudescente e recorrente no cotidiano dos EUA, já não se deixa esconder facilmente. As diferentes mídias registram barbaridades que se pensava esgotadas, uma vez inadmissíveis na dita maior “democracia” do Planeta. Os episódios extremos de racismo, que se acumulam nos mais diversos setores da vida estadudinense, são revelados a seco pelas mídias sociais e se espalham rapidamente pelo mundo, causando perplexidade e revelando a face brutal e vergonhosa do Tio Sam, que se queria oculta para continuar agindo de forma truculenta. Nem mesmo a eleição de Barack Obama, em 2008, o primeiro presidente negro de toda a história dos EUA, representou o fim de um longo e árduo processo de luta por emancipação dos afroamericanos; representou apenas um passo conjuntural em direção a uma sonhada igualdade racial que ainda não chegou.
Entretanto, a história que se quer avivar hoje não se passou nos já distantes anos de 1950 ou 1960. George Floyd, de 40 anos, morreu asfixiado por um policial branco pressionando o joelho sobre seu pescoço. As imagens da barbárie são de 25 de maio de 2020, e aviltantes, causando indignação por todo lado do Planeta. Apesar dos apelos de George, vendo sua vida se esvair ao se sentir completamente sufocado, o policial branco, impávido, cumpriu sua sórdida tarefa de racista e homicida: matou George. Seria o policial um membro da Ku Kux Klan ou apenas mais um policial eleitor de Trump, que se considera investido da missão de tirar a vida de um semelhante? Isso não é de difícil compreensão, tendo em vista que, segundo estudos do Mapping Police Violence (Mapeando a violência policial, “O banco de dados americano mais compreensivo sobre assassinatos por policiais”) nos Estados Unidos, os negros têm três vezes mais chances de serem mortos pela polícia do que os brancos. A pandemia da covid-19 que impera no país não impediu que multidões saíssem às ruas de Minneapolis, cidade em que ocorreu o homicídio de Estado, para mostrar sua indignação face a essa cena explicita de racismo e brutalidade policial. Uma reafirmação da violência do Estado contra negros assente no discurso supremacista de Donald Trump, replicada nas ferozes atitudes de seus eleitores segregacionistas, em um país que tem 40% de negros entre seus prisioneiros, ainda que representem apenas 13% da sua população total. Esses atos cruéis, praticados contra minorias e grupos de cidadãos pobres em diferentes países, não ocorrem como casualiadade. Os fatos cotidianos de violência se repetem e guardam semelhanças nas novas formas de governo constituídos para destruir o que resta de humano e democrático nas nações. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Governos com viés fascista que pregam sua ideologia para as instituições e acolhem atitudes de igual tendência. Certamente não são todos os seus membros que se submetem a esse tipo de lavagem cerebral. As instituições são complexas e não se deixam homogeneizar facilmente, tampouco todo seu contingente precisa desenvolver traços perversos como querem seus mandatários, que terminam por desenvolver tendências de repúdio a práticas que respeitem os direitos humanos, mesmo que isso signifique um processo de autossabotagem e autodestruição a longo prazo. Parecem ter a missão de difundir uma ideologia da indiferença, do ser anti-tudo que signifique respeito a diferenças, promoção de igualdade, fraternidade ou diminuição do profundo fosso social entre pobres e ricos, brancos (ou que se dizem brancos) e não brancos.
Nos Estados Unidos, George Floyd, homem negro de 40 anos; no Brasil, João Pedro, menino negro de 14 anos. George não foi acusado de qualquer crime, mas era negro. João Pedro brincava em casa, dentro de sua casa; mas era pobre, negro e morava em uma favela. No Complexo do Salgueiro no município fluminense de São Gonçalo, foi atingido no peito, dentro de casa, por um tiro de arma de fogo. Esse é o resultado de uma necropolítica instituída pelo governador do Rio de Janeiro, o genocida Wilson Witzel. Apesar de circunstancial desafeto político de Bolsonaro, é seu par na macabra escalada do fascismo no Brasil. A pandemia da covid-19 não freou o aumento da violência institucional e o modus operandi racista que tem lugar no estado e na cidade do Rio de Janeiro e no País. Pior ainda nesses estados que copiam as linhas de um governo central militarista e fascista, com estratégias e arreganhos ditatoriais, não se pode esperar uma polícia que vise, como deveria, à proteção da população. Os paralelos entre países tão diferentes só podem ser feitos porque guardam entre si semelhanças em sua necropolítica e no abissal autoritarismo nas figuras estultas dos seus presidentes.
(*) Dito por Neilton Pinto, pai de João Pedro, assassinado pela polícia do Rio de Janeiro.